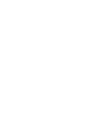Por Coletivo Sycorax, originalmente publicado em Entranhas.
Em meados de 2016, um grupo de mulheres que, majoritariamente, compunham a Revista Geni e, posteriormente, acabaram por criar o Coletivo Sycorax, iniciou o processo de tradução de um livro fundamental e ainda inédito para a bibliografia feminista no Brasil: Calibã e a Bruxa – mulheres, corpo e acumulação primitiva, de Silvia Federici. O Coletivo Sycorax, desde essa primeira empreitada, foi se estruturando como um coletivo editorial com o objetivo de facilitar o acesso à bibliografia estrangeira com abordagem interseccional e anticapitalista.
Trabalhar com o livro de Silvia Federici foi ao mesmo tempo uma satisfação e uma surpresa imensa. Conforme nos aprofundávamos no texto — que já nos interessava pela proposta de analisar os processos da acumulação primitiva e da transição do feudalismo para o capitalismo sob uma abordagem feminista e de classe —, percebíamos mais e mais conexões com a realidade das mulheres de hoje.
Sabendo da passagem da autora no Brasil, por ocasião do evento A revolução ao ponto zero: O comum, reprodução e lutas feministas, organizado pelo Instituto Goethe em conjunto com o Programa de Ações Culturais Autônomas (P.A.C.A), Departamento de Filosofia/PUC-RJ, Capacete e Revista DR, resolvemos aproveitar o ensejo e convidá-la para participar de uma espécie de lançamento de nossa versão beta da tradução para o português, disponibilizada na internet (coletivosycorax.org). O texto a seguir é o registro escrito do debate que realizamos para esse lançamento.
O encontro foi realizado na Escola Livre Ocupada, do Movimento Terra Livre, em São Paulo, no dia 3 de setembro de 2016 e contou com a presença da autora, Silvia Federici, de Débora Maria, do Movimento Mães de Maio, de Regyane Silvia, do coletivo Nós Mulheres da Periferia, e Monique Prada, presidente da CUTS (Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais) e co-editora da página Mundo Invísivel. O convite que fizemos para cada convidada, aceito muito camaradamente por cada uma, teve como princípio reunir mulheres com experiências e contribuições diversas na questão da atualidade da caça às bruxas. A conversa assim seguiu.
Silvia Federici

Obrigada a todas e todos que vieram dividir este momento. Obrigada ao Sycorax, por organizar o evento e traduzir Calibã e a Bruxa, que será publicado em breve. Falarei em espanhol mas não é a minha língua. Se tiverem dúvidas, façam um sinal, digam algo se não entenderem.
Vou apresentar de forma esquemática o Calibã e a Bruxa. Explicarei o contexto no qual foi pensado e sua temática principal, além do significado político para o movimento feminista hoje.
Comecei-o na metade dos anos 1970, quando estava em uma organização que trabalhava com a campanha do salário doméstico. Essa reivindicação partia da necessidade de compreender as formas específicas de exploração que as mulheres sofrem na sociedade capitalista, em especial o confinamento das mulheres na atividade doméstica.
O trabalho doméstico nunca foi reconhecido como trabalho importante. Por vezes é considerado apenas uma herança do trabalho capitalista, mas pra gente é um trabalho fundamental. Ele é um trabalho que produz e reproduz os trabalhadores, e isso muda a perspectiva completamente. Nos demos conta de que, na análise da história do desenvolvimento capitalista que veio de Marx e dos socialistas, o foco estava na formação do trabalhador assalariado, deixando em segundo plano uma parte da vida que é a da reprodução cotidiana.
Nos três volumes de O Capital só encontramos duas notas pequenas sobre trabalho doméstico. Existem várias páginas sobre o trabalho das mulheres nas fábricas, sobre as transformações trazidas pela industrialização — que levou muitas mulheres e crianças para as fábricas –, mas não se fala muito da família, da sexualidade, de se criar crianças, toda essa parte da vida sobre a qual também incide a exploração capitalista. Então fizemos o trabalho de pesquisa pelo presente e pelo passado. Com nossas companheiras, começamos o projeto de investigação histórica que gerou Calibã e a Bruxa.
Começamos estudando a sociedade feudal para entender a forma de exploração naquele contexto, e para compreender como e por que se desenvolveu o capitalismo. De maneira esquemática temos que as comunidades dos servos eram comunidades onde o processo de produção e reprodução estavam juntos. Eles cultivavam pedaços de terra coletivas “doados” pelo senhor feudal, sem divisão entre produção e reprodução e num processo marcado pela subsistência, pela produção de valores de uso. Então nos demos conta de que naquela sociedade a diferença entre homens e mulheres era menos marcada que no capitalismo.
O capitalismo se desenvolveu para derrotar lutas camponesas e de artesãos, que a partir do século XV na Europa começaram a se intensificar. Esse recuo temporal no estudo foi muito importante para compreender o que é o capitalismo, como ele desenvolveu certas formas, certas estratégias. Analisando esse processo de transição a partir de visões diferentes — não só através dos olhos que encaram a fábrica, mas dos que entendem os caminhos da transição –, eu pude ver os passos fundamentais que ajudaram no desenvolvimento do capitalismo. É o processo que Marx chama de acumulação primitiva, é com ele que se inicia a estrutura do funcionamento de um novo momento de exploração.
Para Marx, a expulsão do campesinato das terras comunais na Europa gerou um contingente de pessoas que só tinha como saída trabalhar pelo salário. Importante também foi a conquista da América, com todo o sistema escravocrata. Ela colocou dinheiro na Europa, ativando um mercado monetário, isso é fundamental. Mas olhando o processo a partir da perspectiva das mulheres, encontrei um fenômeno fundamental sempre esquecido, que foi a caça às bruxas.
Ele durou quase três séculos na Europa. Três séculos de extermínio e tortura de mulheres acusadas de bruxaria. Ao fim, grande parte delas se não foram mortas nas torturas, foram queimadas ou enforcadas em praça pública. Era um evento em que toda comunidade deveria ser testemunha, sobretudo os filhos da mulher morta, que deveriam ver a mãe queimada. Com a pesquisa comecei a ver a dimensão dessa caça, que aconteceu em muitos países que também estavam desenvolvendo a economia capitalista: Alemanha, Escócia, Suíça, Inglaterra. Não foi, portanto, um fenômeno pequeno.
Foram produzidos livros que explicavam o que era a bruxaria e por que eram as mulheres as bruxas: mulheres seriam inferiores aos homens, sem força mental, emotivas. Elas fariam pactos com o diabo, seduziam. Foi impactante ler sobre os crimes pelos quais elas eram acusadas: de acordo com os relatos, as bruxas matavam seus vizinhos, faziam artes mágicas para destruir, atravessavam os ares indo até os bosques para conspirar. Olhando para trás, me dei conta de que a caça às bruxas tem muito a ver com a conquista da América e com a questão escravista, ela é parte da acumulação primitiva. Comecei a estudar e a compreender em que sentido foi feita a caça às bruxas, que mudanças sociais a produziram, que estruturas sociais foram criadas a partir dela. A respeito desse assunto quero ouvir de vocês se estão de acordo.
A caça às bruxas foi importante para debilitar a população do campo. E nesse sentido, a divisão entre homens e mulheres foi um instrumento forte para enfraquecer a resistência. Não se tratava somente de crimes específicos, tratava-se de mudar comportamentos não compatíveis com a disciplina que o protocapitalismo tentava construir. Então, muitas vezes se faz um paralelo entre a caça às bruxas e o terrorismo. Hoje tanta coisa é terrorismo que muitas formas de protesto podem ser chamadas de terrorismo, desde explodir-se com uma bomba a fazer greve. Temos visto nesses anos, nos EUA, como a categoria terrorista é usada nas denúncias. E a caça às bruxas também foi um ataque geral para denunciar as pessoas. Não basta só expulsar as pessoas das suas terras, é necessário disciplinar o trabalhador, e por isso há um novo processo de transformação do comportamento. No livro, isso está principalmente no capítulo da maquinização do corpo.
O capitalismo atualizou algumas questões para impor uma disciplina, e a caça às bruxas foi parte central desse processo. Em suma, o que sustento é que a caça às bruxas foi fundamental para dar ao Estado o controle do corpo da mulher. Ser contra a vida, por exemplo, era uma denúncia comum, uma vez que elas usavam práticas que impediam a reprodução. Havia acusações de que elas deixavam homens impotentes, que elas os castravam. Muitas das acusadas eram parteiras. Isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo, institui-se uma nova forma de controle da procriação.
As mulheres eram obrigadas a informar que estavam grávidas. E, se não o faziam, e os fetos morriam, eram acusadas de assassinato e podiam ser decapitadas. Houve a pena de morte para o infanticídio, que era bastante difundido entre a população pobre. Então essa obsessão com a natalidade, observada no desenvolvimento da demografia, é uma das primeiras ciências do capital, e deve ser conectada com a formação da força de trabalho. Assim, o primeiro sistema que associa acumulação de riqueza com trabalho é o capitalismo.
Não é a terra, é o trabalho a fonte do capitalismo. Isso cria uma ótica diferente sobre a procriação, sobre o do corpo da mulher. Se o trabalho é a fonte, a riqueza de um país tem a ver com quantos pobres o país tem. Pobre e trabalhador são sinônimos para eles. Quanto mais pobres, quanto mais trabalhadores, mais riqueza. A caça às bruxas e essa insistência na reprodução têm a ver com a nova forma capitalista, que também se amparou no sistema escravista, obtendo uma acumulação imensa de trabalho. E há algo dessa estrutura que perdurou no tempo, do princípio do capitalismo até hoje, que é um controle específico do corpo da mulher. Às vezes nos obrigam a procriar, às vezes nos esterilizam, decide-se quem pode ou não reproduzir; esse controle do corpo é fundamental para o capitalismo.
As bruxas eram na verdade curandeiras, mulheres conhecidas no povo pelo poder de cura, pelo conhecimento das ervas. Com o desenvolvimento do capitalismo, tenta-se acabar com esse poder social de baixo. O desenvolvimento da medicina oficial, estatal, tem origem aí. O doutor deve ter uma permissão do Estado para agir. Destrói-se o saber dos médicos populares, e assim as mulheres que praticavam sexualidade fora do matrimônio (“promíscuas”), ou que se relacionavam com membros de outras classes, formaram o grupo mais vitimado. A conclusão que chego, portanto, é a de que a caça às bruxas foi fundamental para criar essa disciplina nova que destina cada vez mais as mulheres ao trabalho desvalorizado e não pago. Esse processo destrói o processo de conhecimento social das mulheres e as coloca subordinadas aos homens, como inferiores aos homens, fracas de mente, sem força moral, e que devem ser controladas e submetidas. E entendendo a sexualidade da mulher como algo perigoso. A paixão erótica é apresentada como algo desestabilizador, que contraria a necessidade do trabalhador de dedicar toda sua energia ao trabalho.
Termino a análise pensando que a caça às bruxas não terminou, como muitos dizem, com uma nova fase cultural do iluminismo, com a razão triunfante, com o racionalismo e a ciência moderna. Ao contrário, a ciência moderna ajudou na repressão às mulheres, como fez com outros grupos que se opuseram ao avanço do capitalismo. A tese central do livro, portanto, é a de que a caça às bruxas é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo.
Calibã e a Bruxa foi publicado em inglês pela primeira vez há 12 anos, e o tema principal dele foi confirmado. Tudo o que testemunhamos nesses anos confirma essa conexão entre as relações capitalistas que avançam. A globalização, por exemplo, contém uma série de estratégias que tem como objetivo estender globalmente o capitalismo, amparado na guerra, violência, empobrecimento em massa, e todo esse processo agudo foi parte essencial dessa nova forma de violência contra as mulheres. Isso é um processo global. E um exemplo importante dessa nova forma de violência é o retorno de novas caças às bruxas. Em vários lugares da África, Índia, Papua Nova Guiné, América Latina.
Em Gana, hoje, muitas mulheres vivem em campos de concentração, não podem regressar às aldeias porque as matam. São fenômenos incríveis, o retorno aos caçadores de bruxas. Os chefes as trazem das vilas, esse caçador identifica as bruxas e eles as matam. Tento entender o que se passa agora. Estudei esses novos fenômenos e os relaciono à caça às bruxas. Escrevemos sobre os novos cercamentos, e eu estou convencida de que hoje, como no passado, a violência contra a mulher em geral deve ser atrelada ao desenvolvimento do capitalismo. Ela está relacionada com os ataques ao regime comunitário da terra, fomentada pelos processos de privatização e de titulação da terra. Dividir terras comunais é um fenômeno sempre violento e exclui as mulheres do acesso à terra. Em grande parte, transforma as mulheres, que tinham uma igualdade com os homens no regime comunitário, pois antes elas tinham acesso, e agora ficam dependentes deles, elas viram “ajudantes”, isso é violento. Na África existe uma correlação entre os lugares de função comercial (safari, turismo, etc.) e os lugares que apresentam mais denúncias contra as mulheres. Assim, se entende que, ainda que não seja decretada pelo Estado, como foi no passado, há várias personagens e organizações que estimulam essa perseguição.
É interessante ver a perseguição num programa de expropriação de terra, de privatização, num projeto extrativista que quer que as pessoas saiam desse lugar, acho que dá pra mostrar que tem uma correlação. Hoje, muitas das bruxas mortas na África, como as bruxas no passado, são mulheres velhas que têm acesso à terra, vítimas de grupos jovens desempregados que não veem futuro e que são manipulados pela força oculta que falo, privatizadora, que deseja aplicar políticas extrativistas. Então falo da caça das bruxas porque ela tem a ver com o hoje.
Para concluir, trago um exemplo concreto. Em março ou abril [de 2016] eu fui à Colômbia, [na cidade portuária de] Buenaventura, e uma companheira estava organizando um fórum contra o feminicídio. Quase 400 mulheres foram ao evento, e esse porto hoje é um exemplo de todo mal que o capitalismo faz no mundo: é uma área de mineradoras, que destrói o meio ambiente, lugar de enfrentamento entre FARC e o exército. É um dos maiores portos da América Latina, entram e saem muitas mercadorias, e hoje tentam ampliá-lo; para isso, vão desalojar muita gente. E aconteceram muitos massacres de mulheres, elas foram mortas de forma atroz. O ataque às mulheres é uma mensagem para dizer: não temos compaixão. Quando se quer desapropriar gente, tem muitas formas de exploração. Mas para terminar de maneira positiva, lembro que hoje também, como no passado, o outro lado da violência é a luta que se faz. Não haveria tanta violência se não tivesse tanta resistência, tão múltipla, e hoje como antes, as mulheres são fundamentais. Obrigada.
Débora Silva

Boa noite a todas e a todos. Agradeço imensamente à Revista Geni e ao Sycorax por terem proporcionado minha vinda aqui. Eu sou Débora, fundadora e coordenadora do movimento Mães de Maio. Sou de Santos e minha filhinha me incentivou a estar aqui presente, e para mim é uma honra estar nesta escola ocupada, ainda mais sabendo que aqui é o espaço do Comitê de Pais em Luta. As Mães de Maio deu uma guinada na direção deste comitê, dos secundas, então a gente caminha assim, nosso movimento não parou no extermínio.
Nosso movimento levanta várias bandeiras: somos mães e, desde o momento em que somos mães, temos que proteger nossos filhos. Nós vamos nessa direção, a ideologia do movimento é essa e a gente não foge dessa reta. Nosso papo é reto, ele não faz curva e a nossa necessidade é pra ontem. Quando a gente tem uma necessidade pra ontem, a gente tem uma necessidade de gritar, e quando a gente é convidada para participar dessa mesa rica, com essa aula, a gente aprende todo dia mais um pouco. Vou levar para Santos essa aula que a Silvia deu, está de parabéns!
Eu vou dentro dessa lógica também, e digo que sou a neta das bruxas que não conseguiram queimar. Vou dentro dessa linha de raciocínio pra dizer pra você, Silvia, que as mães vítimas do capital, da guerra de combate às “drogas”, elas também são caçadas e estão sendo queimadas vivas. Porque quando a gente tem nossos filhos retirados do seio das nossas famílias, somos queimadas pela metade, aquela metade que é nosso filho. Sobra só um pedaço, viramos um cadáver ambulante tentando sobreviver na luta. E o que você traz aqui pra nós é muito rico.
Uma coisa que tenho vontade de falar, principalmente em atividade de feminismo, é que não se toca no extermínio dos nosso filhos, nas mulheres vítimas dessa situação. Não se toca, não se debate. Acho que foi de uma pertinência muito grande trazer uma mãe de vítima, tem que se discutir, porque a retirada dos nossos filhos do seio das nossas famílias é uma das piores violações. Acho que a violência contra a mulher é indiscutível, mas essa violência institucional contra a mulher, que é matar o seu filho, é a pior coisa do mundo.
Estamos vivendo em um país onde famílias inteiras estão sendo destruídas por causa dos filhos vitimados. A gente está perdendo mulheres, mães. Estamos vendo mães tentando até se matar. As Mães de Maio são mesmo uma escola, uma mãe carregando a dor da outra, porque nem na psicologia… [os profissionais] foram preparados para fazer esse tipo de tratamento em mãe preta, pobre de periferia e de favela. Ninguém tem o dom para fazer esse tratamento. A psicologia tem que se ampliar no trabalho com as mães para que os profissionais possam tratar como deveriam essas mulheres. Nós já perdemos três Mães de Maio, e perdemos quase todas as Mães de Acari [1], que são as pioneiras no Brasil. Nos espelhamos nelas, somos a continuação das Mães de Acari. Elas foram morrendo lentamente, é o papel que nós fazemos em cima da terra depois que levam nossos filhos. É como se tirassem a terra que a gente cultiva.
O que a Silvia traz do capital é uma realidade. Eu estava ali me acabando, e sou muito firme e segura do que eu falo, mas não me contive porque quando ela fala que há um pedacinho de terra que a gente cultiva e depois colocam a gente pra correr, é a mesma coisa. Nós, mulheres, parimos, e o capital fala que nós parimos marginais, então eles têm que morrer. Como o governo do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, que falou que as mães de favela são as produtoras de marginais. Então é complicado para mim estar aqui e escutar tudo o que a Silvia falou, porque foi um efeito dominó na minha militância o que ela traz. Nós estamos condenadas à perseguição, ao assassinato dos nossos filhos. Há uma perseguição. Apontam quem são as bruxas, não para queimar, mas para encarcerar o movimento. Nós tivemos duas mães presas, uma foi condenada a três anos e três meses. O movimento Mães de Maio é um movimento que enfrenta este Estado, enfrenta o país.
Quando a gente tem uma presidente mulher que passou pelo sistema e não detecta que este mesmo sistema nos está oprimindo porque somos pobres, ela contribuiu para o golpe que também a vitimou. Não tem como não falar que ela não contribuiu para o golpe que está sofrendo hoje, porque ela foi avisada em 2013. Ela foi avisada na bolinha dos olhos, em 2013. Dar um prêmio para as Mães de Maio não é para depois colocá-lo debaixo dos braços, na sacola, e falar “PT saudações”. O prêmio foi crítico e deve ser. A gente tem que ser reconhecida, mas criticando também. A gente não pode ser reconhecida para ser um cala-boca. Porque ninguém vai calar a boca de uma Mãe de Maio. Nem a morte cala a boca de Mãe de Maio.
Quando eu recebi o prêmio, eu o recebi avisando na bolinha dos olhos da presidente Dilma que a ditadura não acabou, pedindo para que ela parasse de festejar o fim da ditadura. Porque a ditadura nunca acabou nas periferias, senão não existiria Mães de Maio. Nós tivemos a sorte de termos sido contempladas pela fala, mas depois fomos humilhadas por essa mesma presidente, que solicitou que guardássemos nossa bandeira que estava esticada. A minha bandeira não é verde e amarela, ela não tem estrela, ela tem cruzes e mina sangue; eu não podia estender uma bandeira verde amarela para agradecer o prêmio. A coragem não é para todos, mas eu avisei que houve covardia ao não desmilitarizar essa polícia, que mata, essa polícia assassina, essa polícia que foi feita para defender o capital. Se antes a morte era inconstitucional, hoje ela é legítima. A polícia tem carta branca para fazer o que está fazendo. Por isso é que as Mães de Maio não estão iradas de agora, porque houve o golpe. O golpe sempre existiu nas favelas, nas periferias, ninguém nunca escutou a gente gritando. A gente estava ensinando os caminhos por onde se devia seguir e ninguém deu ouvido pra nós. Avisamos que a ditadura não acabou, e sabe porque ela nunca acabou? Porque não houve revolução pra gente desmilitarizar o nosso país e agora nós temos um fascista que é o governo do Estado de São Paulo. E a gente também vê um monte de fascistas do mesmo partido matando lá em Salvador, negros e negras. A gente vê que todos trabalham para o capital.

Eu vou dizer uma coisa pra vocês: nós estamos no ano da eleição e os nossos filhos morreram em outra eleição. O que estava em jogo na época era o Brasil, não era o Estado de São Paulo, não era uma merda de uma prefeitura, era um país. E morreram mais de seiscentos jovens no espaço de uma semana, aqui no Estado de São Paulo. Mais de seiscentos jovens assassinados, e incomodou pra quem? Para os familiares que os perderam. Um mês depois do massacre os brasileiros gritavam gol, acompanhavam a Copa, a gente chorava com o hino nacional. Ordem e progresso aonde? Não tem ordem e progresso.
Tem hora que as Mães de Maio saem do salto alto, porque elas nunca usaram e não fazem questão. E elas dizem “ordem e progresso a puta que pariu”. Sabe? Ordem e progresso é a ponta da metralhadora do R15, entendeu? Em cima da periferia. Siglas partidárias pra quê? Elas estão patrocinando nossas mortes. Nós queremos uma pátria livre. Uma pátria livre, porque a nossa carta de alforria foi assinada à lápis, qualquer um apaga, entendeu? A gente exigiu, nem que fosse no sonho e no pensamento, mas depende de nós para que ela seja assinada à caneta. Porque naquela época foi perversidade da princesa Isabel, a bondade dela foi tão grande que existia caneta de pena mas ela assinou à lápis, do contrário não tinha a escravidão até os dias de hoje. Nós somos escravos do capital. E quando a gente tem uma presidenta… eu votei nela, é minha presidenta, eu confiava, eu achava que ia quebrar, derrubar o sistema mas não, alimentou o sistema. E este sistema é um sistema de caça às bruxas.
Quando a gente vê agora “vamos pra rua”, pensamos: pra quê? Pra tomar bala de borracha, ficar cego, levar porrada da polícia. Por que não antes? O revolucionário não está nas siglas partidárias. O revolucionário tem que ser pelos direitos adquiridos, a gente tem o direito de não ser escravizado pelo capital. Tiveram 12 anos para derrubar o sistema. Faltou coragem. Faltou coragem no Brasil, entendeu? Nós estamos falando nesse patamar, nós estamos mudando o rumo da nossa conversa na militância porque a gente tem que tocar nesse assunto, porque nós estamos sofrendo. Nós vamos ver vários filhos, várias outras Mães de Maio sendo produzidas por causa da opressão do Estado de Exceção no Estado de São Paulo e no país. Não tem democracia com uma polícia militarizada. A gente sabe que nenhum país pode ter o fim da polícia, é uma segurança, mas a militarização sim. Mas abandonaram as bases. E em um país com um presidente que é eleito pela base e depois governa de costas para a base, só Deus.
A gente sabia da receita, a gente deu a receita do que estava acontecendo. Eu acho que [a presidenta] tinha destruído o fascismo se ela tivesse atuado em maio de 2006 na cobrança do massacre. Quando um Ministério da Justiça faz uma doação para universidade de São Carlos fazer a pesquisa sobre o Maio, eu acho que eles não sabiam o que era o Maio mas quando eles viram a pesquisa, tremeram na base. O autor da lei antiterrorismo tremeu na base, proibiu a Universidade de São Carlos de mostrar a pesquisa e fatiaram-na. Porque até então o que estava valendo eram os 493 óbitos, da Secretaria de Segurança, e com a pesquisa viram que foram também mulheres que morreram no massacre, produzido pela corrupção no Estado de São Paulo e para responder ao capital, que estava sendo vítima.
A luta do movimento Mães de Maio é um luta que sangra. Eu, por exemplo, tenho a dor da perda do meu filho. Ele trabalhou um dia inteiro e o que ele recebeu à noite, de consolação, depois de ter feito uma jornada de 9 horas, ele, que era um gari? 5 tiros da polícia do Estado de São Paulo. Ele não obedeceu a ordem do toque de recolher do dia 15 de maio de 2006 e foi executado com 5 tiros. E não teve nenhuma academia que se debruçasse sobre essas mortes. A gente culpa, a militância vai pra cima, nós vamos pra cima, a gente coloca o dedo na ferida dos esquecidos brasileiros. Porque nossos mortos têm voz, nossos mortos têm voz.
Um partido de esquerda quando ele não sabe governar é o mesmo partido que a direita… a direita estava amando esse partido. A esquerda que a direita gostava, foi o que estava no poder. Eu sou esquerda, radical e revolucionária. Porque levo o legado para o túmulo. A minha luta não parou e nem vai parar. Jamais. Porque o movimento Mães de Maio, antes da gente morrer lentamente, a gente tenta se alimentar dessa luta. Que é a única coisa que faz a gente estar viva. E acho que é um dever, porque eu, como uma dona de casa, eu consegui apontar nos exames cadavéricos onde estava o defeito, onde estavam os erros. Não é à toa que depois de 6 anos exumaram o corpo do meu filho. Os corpos estão todos preservados em Santos. Nós estamos com 12 corpos preservados em Santos que nem o capital tira do lugar. Temos que mostrar que a ditadura não acabou, e que a democracia pode ser mais perversa. Porque em um mês se matou 1300. Na ditadura foram 400 e poucos legítimos, que eram de classe média, média-alta, enquanto que o que nós denunciamos no cemitério de Perus — com o filme Apelo, está no youtube, alta resolução, quem quiser olhar dá uma olhada e vê do que eu estou falando – foi que as mortes não terminaram na ditadura com o cemitério clandestino feito pelo Fleury. Elas continuam, a todo vapor. De onze e meia ao meio-dia se enterram os corpos como indigentes, com apenas uma identificação nos caixões, em 5 minutos. Eles ganham um número em uma estaca, e a gente denuncia. Porque é inaceitável não se ter um aprofundamento de uma pesquisa dentro daquele cemitério de Perus, o porquê que se enterra, em sua maioria, negros. Não parou naquele memorial feito pela Erundina, não parou ali.
A marcha fúnebre prossegue. Eu mostrei e mostro porque também participei de exumações dentro daquele cemitério, e nas exumações dentro das valas clandestinas não sobra nada, não tem nada, não tem vestígio de massa óssea, nada. Não tem nada, nada, nada. Por isso agradeço quando a Silvia traz aqui uma aula e tanta pra mim. E eu, como uma dona de casa que fui obrigada a lutar, não me interesso por aprender a falar difícil porque todos que falam difícil agem errado, entendeu? A minha escola, a minha faculdade ninguém rasga, ninguém tira meu diploma. O diploma da vida. É disso que eu vim falar. E vou dizer que cada vez mais eu tenho pena dessa juventude, que por mais que eles tenham sangue nos olhos, eles não vêm duma base construtiva para ganhar a rua. Se eles viessem numa base construtiva para ganhar a rua eles não tinham saído e dado a rua de mão beijada para o fascismo.
Regiany Silva

Vou começar contando quem eu sou a partir de quem a Débora contou que ela é. Eu me chamo Regiany, faço parte do coletivo “Nós, mulheres da Periferia”. E pra começar minha fala eu queria dizer que à época dos crimes de maio, em maio de 2006, eu morava na Cidade Tiradentes. É um bairro do extremo leste da cidade de São Paulo, onde morreu muito gente, muito preto.
Naquele dia eu saí de manhã pra ir à escola, eu estava no Ensino Médio e estudava no Tatuapé, que é a área nobre da zona leste. Eu estudava no Tatuapé, mas eu morava na Cidade Tiradentes, e eu não sei se vocês sabem mas a Radial Leste é um inferno, então eu saía às 4:30 da manhã de casa com a minha irmã, ela saía pra trabalhar e eu pra estudar. E nesse dia, em maio, a gente não sabia o que estava acontecendo, acordei 4:30 da manhã pra ir à escola e ela pra trabalhar, como qualquer dia. Eu morava no Morro do Urubu, é um lugar bem alto e a avenida onde passa o ônibus é longe… A gente esperava o Morro do Urubu, que era uma lotação que passava perto da minha casa às 4:55, pra gente descer pra avenida e pegar o ônibus, pegar o Parque Dom Pedro. Mas nesse dia a Morro do Urubu não passou.
Em casa somos em três, minha mãe e nós duas, a gente ficou esperando a lotação passar e a lotação não passava. Aí começou a aflição da minha mãe, porque a gente tinha que descer o morro a pé, às 4:55, e ainda era noite, não tinha amanhecido. A gente ia acalmando: “mãe, a lotação deve ter quebrado, porque sempre quebrava, vamos descer a pé”, sem saber o que estava acontecendo. Descemos o morro pra avenida e no meio do caminho começamos a ouvir barulhos que pareciam de tiros. Só tinha a gente na rua, só eu e minha irmã. A gente parou, “pô, será que isso é tiro?”. Não, vamos continuar, não deve ser. Quando estávamos no meio da rua para conseguir ir para a avenida, vimos um carro de polícia atrás de um golzinho branco, e o carro de polícia atirando loucamente. Vimos o pessoal da avenida se jogando na rua. Desesperamos, “porra, e agora, o que a gente faz?”. O golzinho entrou na nossa rua, e o carro de polícia entrou atrás; a gente se jogou no chão e ouvia os tiros que passavam perto, só que eles entraram na primeira esquina, não continuaram subindo na nossa direção. E quando a gente saiu de casa, minha mãe ficou no portão, porque, como toda mãe, ficou olhando as suas filhas descerem. Enquanto ela pudesse ver a gente ela ficava no portão. E na hora em que a gente se jogou no chão e viu que eles passaram, a gente levantou e pensou “mano, a mãe, será que a mãe entrou?”.
Quando a gente resolveu subir, os tiros começaram lá em cima. Sem saber o que fazer, porque a gente ficava pensando na minha mãe que podia estar no portão, ouvindo tiro lá embaixo. Eu não sei como, mas a gente chegou no terminal de ônibus, encontrou amigos, conseguiu ligar do orelhão, e falou: “mãe, tá tudo bem, a gente tá viva, e a senhora, está bem? A gente ouviu os tiros ali em cima”, e tal. Como diria o Brown, o Ice Blue, podia ser a minha mãe, tá ligado? Eu poderia ter sido filha da Débora, e a minha mãe, Teresinha, podia ser uma Mãe de Maio, porque eu estava na rua naquele dia. Eu, assim como o Rogério e outros filhos das Mães de Maio, somos moradores das periferias de São Paulo e o que a gente tem em comum é que não tem muita gente interessada em saber a minha história, assim como não tem muita gente interessada em saber a história da Débora, do Rogério. Até que as Mães de Maio metam o pé na porta, né? Até as mulheres se organizarem, baterem o pé na porta e dizer “olha aqui, vocês estão matando os nossos filhos todos os dias, essa ditadura não deixou de existir e a gente sabe disso”.
O que o Nós, Mulheres da Periferia tem a ver com isso? Nós somos um coletivo de jornalistas. Do mesmo jeito que eu pegava o Parque Dom Pedro e atravessava a cidade, eu atravessei e cheguei na universidade. Graças às políticas afirmativas, todas nós fomos bolsistas, nossas mães nunca tiveram dinheiro para pagar uma universidade pra gente. Mas tá, a gente conseguiu, as políticas afirmativas estão aí, ainda bem, tem mesmo que pagar a dívida histórica, e continuar pagando. Todas somos jornalistas, exceto eu, que eu na verdade sou designer, eu sou a única que me formei em design no coletivo. Mas qual é o nosso desejo? Por que a gente nasce? É pra bater com uma outra força de Estado, que a gente acha muito forte, que é a grande mídia.
A grande mídia não está interessada em contar a nossa história. A grande mídia está à serviço do capital, de quem tem poder, de quem tem dinheiro e de quem é branco. Não está interessada em contar as nossas histórias com humanidade; a grande mídia não pisa lá na Cidade Tiradentes. Eu não sei se vocês viram, mas o Mapa da Desigualdade saiu e, enquanto na Cidade Tiradentes a estimativa de vida é de 54 anos, no Alto de Pinheiros é de 80. A gente está vivendo 25 anos a menos, dentro da mesma cidade. A única coisa que a grande mídia vai fazer é pegar esse dado e fazer uma chamada para conseguir audiência. Ninguém vai lá na periferia, na Cidade Tiradentes, entender porque que a nossa expectativa de vida é de 54 anos. Por que motivo a gente está morrendo igual mosca, e por que motivo, estando na mesma cidade, se vive aqui do lado 80 anos e lá se vive 54.
Então o Nós, Mulheres da Periferia nasceu desse desejo de contar as nossas histórias, porque a gente atravessou a ponte, se tornou jornalista e aí? E aí que eu continuo pegando trem; e aí que a minha mãe podia ser uma mãe de maio; e aí que ninguém está interessado em saber quem nós somos, sabe? Então o que a gente quer fazer é usar essa ferramenta do jornalismo, da comunicação, para contar nossas histórias por nós mesmas. Porque eu tenho histórias para contar. Em maio desse ano a gente fez uma entrevista com a Débora, produziu um conteúdo sobre as Mães de Maio. Mas eu também faço parte dessa história, então somos nós, elas, o que o Nós tem é que não é o outro. A Débora é minha mãe também.
Para o Nós, o que a gente pretende fazer diferente no mundo é produzir notícias, comunicação, de dentro, de quem conhece o rolê. Falar de violência doméstica contando a história da minha vizinha, porque eu ouço a minha vizinha apanhar do marido dela. E eu não preciso ir longe, eu não preciso ligar para uma fonte, igual os caras das grandes redações que vão ligar e falar “ah, como é a violência doméstica?”, “como que é o trem?”. Não, mano, eu ouço a minha vizinha apanhar. Todas as nossas mães foram domésticas. A gente vai falar de trabalho doméstico, eu vou entrevistar a minha mãe. Quem é a melhor fonte? É a minha mãe, ela sabe o que é trabalho doméstico. Se a pauta é trabalho doméstico, a PEC, o que a grande mídia vai falar da PEC das domésticas? A visão da patroa, a preocupação da patroa. Porra, não, a gente tem que dar informação para as nossas mulheres, para entender quais são os direitos delas, porque agora todo mundo virou diarista, porque os caras não querem registrar. Então é olhar por uma perspectiva de dentro. Vocês devem ter visto a morte da Luana Barbosa em Ribeirão Preto. A Luana foi uma vítima do Estado, uma mulher negra que foi violentada e assassinada pelo Estado. E a chamada da grande mídia é “jovem negra é assassinada”. Não sei quem é, acabou, quem é a Luana? Ninguém quer saber quem é a Luana, é isso que nos pega, cadê a nossa humanidade?
Quando a gente traz o mapa da violência, o mapa da desigualdade, todos esses números são pessoas, são seres humanos, são histórias, são mulheres, são famílias, e é muito fácil o jornalismo trabalhar com dados e espetacularizar o número de mortes, com tanta naturalidade que ninguém se choca. A pessoa morre ali com 54, do outro lado com 80. “Nossa, caralho!”, mas virou as costas e saiu andando. Continua sua vida, como se nada tivesse acontecido. E aí amanhã o mapa se atualiza, e a gente continua morrendo mais na periferia, a gente continua morrendo mais por ser negro, por ser jovem, negro e da periferia. E isso é tão naturalizado que isso não sensibiliza mais ninguém, porque nos tiraram a humanidade.
Na verdade, a população negra nunca teve humanidade, a humanidade da população negra sempre foi retirada. Eu sempre lembro de um exemplo que faz tanto tempo mas é tão real: a morte da Isabela Nardoni, de uma menina de uma família de classe média de São Paulo. Poxa, até hoje todo mundo sabe quem é Isabela Nardoni. Isso vale notícia, reportagem de dez minutos. E tudo bem, isso é uma dor, é uma família. Não existe menos dor porque ela é branca e de classe média, mas a gente morre todos os dias. E é isso que a Débora está falando, parece que a democracia acabou agora, que agora é que a gente vive numa ditadura. Que agora é que a gente precisa ir para a rua, agora é que alguma coisa aconteceu. Não, não, acontece o tempo todo, a gente tem motivo para estar na rua o tempo todo, a gente tem motivo para demonstrar isso o tempo todo. O que a gente diz é que, quando você coloca lá “Isabela Nardoni” e o assunto rende 10 minutos, e depois você coloca a Luana, ou a Cláudia do Rio de Janeiro, “a mulher arrastada”. Mulher arrastada? Ela era uma mãe, o nome dela era Cláudia, e a chamada é “mulher arrastada pela polícia morre”? É tanta desumanidade que a gente precisa recuperar isso, sabe? A gente precisa nos humanizar, mostrar o que a gente tem a dizer.
Nós, mulheres da periferia se propõe a justamente isso, a visibilizar as nossas histórias que são escondidas. As histórias que ninguém quer ouvir, a humanidade que ninguém quer ver, a ferida que ninguém quer tocar. 54 anos e 80, ou “a morte e a violência entre mulheres negras só aumenta, enquanto a de mulheres brancas diminui”, são dados. Mas o que a gente pode fazer é tocar na ferida e mostrar quem são essas mulheres, quem somos nós, que somos as mulheres negras, que mais sofrem violência. O que isso significa na vida dessas mulheres reais, que têm nome, endereço, idade e que o jornalismo da grande mídia está pouco se lixando. Porque a gente é esse ser desumano que precisa ser escondido, jogado historicamente nas periferias das grandes metrópoles como São Paulo. Então, o nosso território enquanto periferia é uma segregação que não é só geográfica, é social, é racial.
É feito de propósito, as periferias são construídas com recorte de raça. São os negros os jogados às margens, e essa margem territorial é simbólica. Isso é reproduzido todos os dias. Todo trem que a gente pega para atravessar a cidade é o trem simbólico que a gente pega para poder falar e para poder ser ouvido. O pedágio, o rolê da nossa voz é muito maior. É isso o que a gente quer dizer. Tem um bando de discurso sendo produzido lá na quebrada, um bando de mulher como a Débora, como a minha mãe, que precisa ser ouvida.
O Nós, Mulheres da Periferia pretende fortalecer e dar espaço para que a comunicação faça isso com qualidade. Porque no papel de comunicadora a gente entende que o nosso compromisso, enquanto comunicadora e mulher da periferia, é trazer essa humanidade às nossas histórias que são negligenciadas pela grande mídia, pelo Estado, por quem é do poder. Porque discurso é poder, discurso constrói estereótipos. Então é sempre um embate. E o embate do Nós, Mulheres da Periferia é esse, o da comunicação. Acho que é isso o que eu tenho um pouco para contar. E convidar quem não conhece a conhecer o trabalho do nosmulheresdaperiferia.com.br.
Monique Prada
(Mundo Invisível e Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais – CUTS)

Me chamo Monique, sou prostituta e uma das fundadoras da Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais no Brasil. Estou usando hoje essa camiseta em homenagem à Gabriela Leite, uma das pioneiras do movimento de prostitutas brasileiro. Eu sempre tive para mim que nome de rua fosse uma honraria que só picareta, só ladrão, só assassino pudesse merecer, mas essa semana uma rua do Rio de Janeiro foi batizada com o nome de Gabriela Leite, e isso é algo que temos a comemorar agora – uma puta dando nome a uma rua.
É difícil começar essa fala aqui, porque a pauta das minhas companheiras de mesa é, em certo sentido, muito mais importante que a nossa – mas a nossa pauta atravessa a pauta das companheiras. A Débora falou da bandeira do Brasil e da coisa da ordem e progresso. A questão é que este enunciado, este “ordem e progresso” de fato não serve para nós, não serve pra quem é da margem, pra você, pra mim, para Regiany. O Estado mata quem está à margem justamente para manter a “ordem” e o “progresso”. Nós somos o lixo social, nós representamos a desordem na visão do Estado.
Eu não consigo imaginar o que é perder um filho, eu nunca perdi um filho, mas posso dizer que este é o maior medo de toda a mãe – e é neste sentido que a luta de Débora, e das Mães de Maio, nos toca a todas.
Débora fala em falsa democracia, fala que estamos em uma ditadura, e em certo sentido estamos. Para a periferia, a ditadura nunca acabou. Sim, o país acaba de sofrer um golpe, e sabemos o quanto a vida pode piorar. Mas não podemos esquecer que vivemos em um país em que jovens negros são covarde e brutalmente assassinados com 111 tiros pelo Estado, e no dia seguinte a vida segue. Enquanto algumas de nós ainda choramos, parcela significativa da classe média procura justificar este assassinato com argumentos fascistas – e a maioria da população simplesmente segue suas vidas como se nada tivesse acontecido. A periferia segue esquecida. Então, essa Ordem e esse Progresso não nos representam, o Estado brasileiro segue mantendo a Ordem e o Progresso reprimindo e exterminando.
Por certo período, tivemos a ilusão de um Governo popular, um governo popular que fosse nosso… Mas o Governo é o sistema, e esse sistema, essa democracia, acabam por não nos representar de modo pleno. Fiquei pensando na fala da Silvia[2] de ontem, e tenho certo pra mim que temos que lutar para manter o que é público, pelo nosso direito de usufruir do que é público – mas sem nunca perder a consciência de que o que é público não é nosso. Nós precisamos pensar — e me parece que a periferia já pensa — em outras formas de organização das nossas vidas que não necessariamente passem pelo Estado. Porque o Estado não representa a periferia.
Quando Silvia fala de caça às bruxas, eu fico pensando que o Estado mata os nossos filhos como uma forma de caça às bruxas. Não estão caçando as mães, estão caçando os seus filhos para que todos os outros filhos se comportem, para que trabalhemos muito, andemos na linha, tenhamos medo. Algo que me ocorre, também a partir de leitura de textos da Sílvia: por que o aborto não é regulamentado, não é legal nos países mais pobres e é legal nos mais ricos? É uma coisa que li de passagem e fez um eco em mim. O capital nos quer reproduzindo enlouquecidamente, os pobres são a riqueza das nações. Então a luta para legalizar o aborto me parece muitíssimo importante. Eles nos dominam a partir do extermínio de nossa juventude, o que não faz diferença para o capital porque nós continuamos reproduzindo em massa. Hoje eu não teria filhos, por que me soa muito como produzir mão de obra barata para o sistema. Mas eu não sei o que a Débora pensa disso.
Débora: Eu acho que é uma boa pegada.
Monique: Pois é, isso me veio à cabeça, nós não temos direito ao aborto seguro, nós não temos a escolha toda de ter filho ou não. A gente simplesmente vai tendo. Filhos que nos orgulham e que servem, como nós, como mão de obra barata, e a violência estatal sobre nós vem como modo de manter toda uma população submissa.
Eu falo também do lugar de prostituta pensando na caça às bruxas, e sobre como o capital, o sistema, o patriarcado nos convenceram a caçar umas às outras. Estamos em um momento do feminismo no Brasil e no mundo que eu sinto que nós, as prostitutas, somos as bruxas. No entanto, esta perseguição e estas fogueiras simbólicas em que nos queimam não estão ali para prejudicar apenas a nós, mulheres que escolhemos cobrar por sexo. A maneira como o patriarcado decidiu que vai nos queimar, nos torturar, nos manter presas, nos manter à margem de direitos, é algo que tem como função prejudicar a todas as mulheres: convencê-las de que há um lugar, um péssimo lugar, para aquelas que rompem com os padrões e regras.
O feminismo classe média decidiu pôr como única pauta da prostituição a questão da regulamentação da prostituição como um trabalho. E esta é certamente uma questão importante, é sobre direitos trabalhistas que historicamente nos têm sido negados. Mas temos ainda tantas questões sobre prostituição e feminismo e estigma para tratar, que vão ficando de lado. Não apenas sobre cobrar por sexo mas sobre como, da mesma forma que o Estado me reprime como prostituta, ele reprime a outra, a que não é prostituta. O estigma de puta nada mais é que um modo de controlar o comportamento das mulheres, de todas as mulheres. Por isso procuro estar em ambientes em que se debate feminismo, por que tem sido importante pra mim encontrar pontos de convergência em nossas lutas, eles existem.
O machismo que mata prostitutas é o mesmo machismo que mata as outras mulheres. Quando eu penso nessas coisas e você me fala do poder opressivo e homicida do Estado, me lembro que quando organizamos, há poucos meses, debates sobre turismo sexual no contexto das Olimpíadas, fomos ameaçadas mesmo de prisão por companheiras que deviam estar nos apoiando. Ameaçaram nos denunciar à Polícia Federal por estarmos discutindo temas inerentes a nosso trabalho. E neste contexto uma delas, uma grande liderança — você pode chamar como quiser, elas querem que haja lideranças — sugere que, durante as Olimpíadas a Polícia reprima a prostituição. A Polícia. Ela diz não acreditar que ideais tão nobres quanto os ideiais que inspiram os Jogos Olímpicos possam conviver com a prostituição. Mas que ideais tão nobres são estes ideais que inspiram um grande evento como as Olimpíadas?
O grande ideal que permeia a realização dos grandes eventos é e sempre foi o higienismo, é que se mantenha a qualquer custo a “limpeza” das ruas, o que quer dizer prostitutas, pobres, mendigos expulsos das ruas. As pessoas pobres, a periferia, só pode participar de eventos deste porte como serviçais. Me espanta o rumo que a esquerda vem tomando, dando voz e espaço para pessoas que reproduzem esse tipo de discurso fascista, higienista. Assim, não me surpreende que não estejamos conseguindo fazer com que o governo golpista do Temer caia com o povo na rua. O povo não vai, nós não vamos… Nós sabemos o que acontece. O governo Dilma tratou as prostitutas como se não fossem mulheres. Não tínhamos espaço na Secretaria de Políticas para as Mulheres. E por aí vai, acho que são essas as questões. Eu sempre prefiro perguntas, mas é uma honra estar com você aqui [Débora Silva], de quem eu só ouvia falar pela internet e pelo jornal. Fiquei super emocionada.
E Silvia, nunca tinha ouvido falar da sua obra. Não sei se você está me entendendo, posso tentar falar espanhol. Puedo intentar hablar en portuñol. Comecei a ler você com muito medo, porque me disseram que era uma feminista radical que vem ao Brasil [risos gerais]. E pensei: porque estão me botando nessa mesa?
Mas comecei a ler e perceber que a Sílvia fala sobre coisas que me contemplam. Em uma entrevista que traduzi, e lhe perguntam sobre prostituição, ela conta sobre quando o sistema de produção capitalista começa a se instalar, e de como, com a tomada das terras dos camponeses, tivemos a prostituição massiva, com muitas e muitas mulheres sem alternativa para não morrerem de fome. Mas ela fala então sobre os trabalhos que são tomados das mulheres sem que elas nada recebam: o trabalho doméstico e de cuidados, o trabalho sexual e o reprodutivo – e fala que a prostituta, a partir de por preço no trabalho sexual, rompe com uma das regras básicas do patriarcado. Isso me trouxe uma perspectiva interessante. A partir disso, comecei a pensar se não seria algo como uma utopia distópica a ideia de acabar com o trabalho sexual.

Ouvi você [Silvia Federici] falando ontem sobre o afeto como um tipo de trabalho que nos é tomado desde sempre, uma perspectiva interessante pra mim. Mas a gente tem muito essa ideia, de achar que é preciso acabar com o trabalho doméstico e sexual. Eu penso que é preciso acabar com todos os trabalhos precários, mas que enquanto isso não ocorre, as mulheres que exercem trabalho doméstico precisam ganhar mais e ter mais respeito, assim como as prostitutas. Por isso questiono se não é uma utopia distópica acabar com todos esses trabalhos e nos pôr a todas de volta no nosso lugar de não poder cobrar por eles. São questões que eu coloco para você [Silvia Federici] e para a plateia, como é que se organizaria isso.
Sobre o trabalho sexual, eu já sei que a Silvia concorda com nossa luta por direitos. Quando questionei no evento de ontem se é possível que as prostitutas consigam entrar na luta antipatriarcal e anticapitalista, quis dizer que para além da regulamentação, é necessário ver [nosso trabalho] como um espaço de resistência ao machismo e ao patriarcado.
A duas quadras daqui tem uma zona de prostituição, uma alegria, música sertaneja, pessoas dançando a essa hora. Funcionando à luz do dia. Por que isso tem que acontecer à margem? Por que essas mulheres têm que ficar à margem e não se pode estimular nelas autoestima, autoconfiança, empoderamento, de modo que elas consigam barrar todos os abusos? Por que a gente as percebe à margem?
É uma coisa de caça às bruxas. Isso condiciona o comportamento das mulheres. Nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer a uma mulher é ser confundida com uma puta. Não tem nenhuma mulher aqui que por algum motivo em algum momento da vida não tenha sido chamada, condenada e em certo sentido violentada como se fosse uma puta.
É algo que falo: o espaço de ser puta é um espaço de exclusão, um espaço de medo. Enquanto o patriarcado usa a nossa condição de prostitutas para pôr medo em vocês, a gente tem que brigar contra ele e ao mesmo tempo, brigar para romper os muros entre nós e as outras mulheres, brigar para que estar em nosso lugar ou representar o que representamos jamais possa ser um fator de medo para mulher nenhuma.
E não, ser prostituta não é a pior coisa do mundo, posso garantir. Há questões sobre o trabalho sexual que extrapolam o “gostar” ou “não gostar” (de exercê-lo). Conheci muitas mulheres, inclusive algumas mulheres que consideram ter se empoderado através deste trabalho, e nos trazem histórias diferentes. E há mulheres, sim, que querem deixar o trabalho sexual, e é preciso lutar por políticas públicas que permitam que todas as mulheres tenham maior possibilidade de escolha, que nenhuma mulher precise exercer trabalho precário por falta de escolha.
Nós tivemos pouco mais de dez anos de governo dito popular, tivemos avanços, mas no momento estamos lutando contra o extremo desastre que é o neoliberalismo, avançando por todo o mundo. É um contexto em que talvez não se mostre possível acreditar em políticas públicas eficazes para evitar que mulheres recorram a trabalhos precários, sendo a prostituição apenas um dentre eles. É chegada a hora de derrubar muros e construir soluções entre nós mesmas. Do mesmo modo que a caça às bruxas foi uma maneira de implantar o capitalismo, como a Silvia coloca, acredito que a união entre as mulheres possa ser uma maneira de… Olha, utopia geral: derrubar o capitalismo. Se nós conseguirmos entre nós derrubar os muros, talvez a gente não chegue a derrubar o capitalismo, sejamos modestas – mas acredito com força nisso de construirmos juntas vidas melhores.
***
Agora em 2017, com quase um ano de distância dessa conversa, o Coletivo Sycorax e a Elefante, com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, lançam a edição impressa de Calibã e a Bruxa. Que venham outros tantos debates intensos e ricos aproximando mulheres das mais diversas partes e lutas do Brasil. Agradecemos a todas e todos que caminharam conosco até agora e às pessoas que ainda estão por somar nessa leitura.
[1] Em 1990, na favela carioca de Acari, 11 jovens foram sequestrados e mortos por policiais. Nenhum dos corpos foi localizado. As mães dos desaparecidos iniciaram a busca por informações e justiça, e ficaram conhecidas como as Mães de Acari.
[2] “O feminismo e a defesa dos comuns nas lutas anticapitalistas” no Centro Universitário Maria Antonia organizado pela Sempreviva Organização Feminista (SOF) e a Marcha Mundial das Mulheres no dia 2 de setembro de 2016.